o eu cultural, o outro, e o futuro em comum
Principiemos esse tema pelo que nos apresenta José Javier Esparza em seu texto “El etnocidio contra los pueblos: Mecánica y consecuencias del neo-colonialismo cultural”.
O “Homem” é cultural. Tanto como a espécie humana é uma noção biológica. Nesse plano, zoológico, todos os homens são iguais. Mas os homens não se definem por sua constituição biológica - ou não apenas por ela – e sim por sua pertinência a uma cultura. O homem, desprovido de instintos programados, como confirma a etologia de um Lorenz ou a antropologia de um Gehlen, tem que construir seu comportamento ante o meio. Essa construção é cultural. De modo que, em palavras de Gehlen, o homem é um ser cultural por natureza. O mesmo vale para as sociedades humanas. Os homens se agrupam em comunidades de cultura. Não existe cultura universal nem homem universal. Há povos com culturas e homens. O mundo humano é essencialmente polifônico. As culturas se constituem assim em meios dos homens para criar seu entorno. Essa cultura não pode ser reduzida a “produção cultural”; a cultura aqui está configurada pelos costumes, ritos, visão de mundo, a concepção da sociedade, a idéia do sagrado, o modo particular de cada cultura de entender a relação entre o homem e o mundo. Qualquer tentativa de homogenizar as culturas, de reduzi-las a um modelo universal, atenta contra o que é especificamente humano: a diversidade cultural. O Etnocídio se inscreve nessa dinâmica homogeneizadora. Provocando a morte da diversidade cultural, implica no lento desaparecimento da especificidade dos homens e dos povos. Implica na morte do humano. (...) Aprofundarmo-nos sobre esse fenômeno exige remontar à inegável, radical realidade do étnico, e a um fato que com freqüência lhe é inerente: o etnocentrismo. Este termo, sinônimo de autocentrismo cultural, foi definido em 1906 por W.G. Summer como a concepção de mundo segundo a qual o grupo ao qual se pertence é o centro, e os demais grupos são pensados em referência a ele. Se manifesta (sobretudo no nível inferior de uma comunidade) como elogio do que é próprio e desprezo do alheio. Este fenômeno não é intrinsecamente negativo; se dá na quase totalidade dos povos: os esquimós dicen de si mesmos Innuit, “os homens”; os índios Guarani se dizem Ava, “homens”; os Guyaki, se dizem Ache, “as pessoas”; o mesmo ocorria em todos os povos indo-europeus. Lévi-Strauss escreveu que o etnocentrismo é um fenômeno natural, resultado das relações diretas ou indiretas entre as sociedades. Todos os povos são etnocêntricos. Agora, só a civilização ocidental é etnocida, porque tende ao proselitismo, variante “pacífica” da “alterofobia”, manifestação do “ódio ao outro”. (...) Geralmente, detrás da alterofobia se esconde não um complexo de superioridade, pelo contrário, um complexo de inferioridade, uma insatisfação cultural - provocada com freqüência pela perda do auto-conceito da comunidade étnica, ou seja, por um desvio ou uma insuficiência de etnocentrismo. As manifestações de alterofobia são fundamentalmente duas: o repúdio e a assimilação:
O repúdio consiste em que a relação de um grupo com o outro se interpreta segundo o esquema dualista natureza/cultura. A “sociedade civilizada” julga à “sociedade selvagem” como inferior, infra-humana. As culturas diferentes àquela própria passam a ser consideradas “infra-culturas”, “naturas”. Nesta lógica, as culturas “selvagens” estão destinadas a ser “elevadas”, “remidas” mediante a dominação. Esta dominação não exclui a violência física ou a aniquilação de uma raça (genocídio); tampouco exclui o etnocidio, mas aqui este se produz como conseqüência direta do exercício da dominação violenta, o que a diferencia da outra manifestação de alterofobia: a assimilação. A assimilação é uma manifestação alterofóbica mais sutil, menos polêmica. Consiste na negação da diferença mediante a assimilação a si mesmo. O Outro é idêntico a si, o que evita debater o problema da diferença da outra cultura. A distância é censurada. Se trata de um etnocídio com “boa consciência”, que corresponde ao fenômeno neo-colonialista de nossos dias. O etnocídio atua em dois movimentos consecutivos: a) a aculturação, que gera uma heterocultura; b) a assimilação efetiva, o etnocídio propriamente dito.
O professor Mohammed El-Hajji, em “A Comunicação Intercultural contra o fechamento comunitário” (aqui em pdf), nos elucida que a CIC (comunicação intercultural) enquanto “comunicação comunitária própria e presença efetiva como agente e sujeito na mídia geral” é um direito e requisito fundamentais para a negociação da cidadania pelos diferentes grupos culturais no contexto da “Sociedade de Informação”:
o contexto moderno favorece, em primeiro lugar, as articulações a caráter vocacional, reduzindo os quadros identitários a sua função opcional, cujo objetivo não é a expressão efetiva de subjetividades singulares, mas apenas o aproveitamento da possibilidade de construção de uma narrativa que sustente os interesses e os ideais do sujeito. Pois, por causa da redução de suas opções de realização enquanto sujeito, o indivíduo moderno busca modos de inserção em grupos de interesses semelhantes aos seus para poder alcançar seus objetivos tanto materiais como subjetivos. As instâncias de enunciação da cultura do grupo, enquanto marcas diferenciadas, passam, assim, a se expressar sob novas formas e via novos canais, de tal maneira que possam conciliar a preocupação identitária com outras articulações a caráter vocacional ou profissional. Porém, graças a sua capacidade de se organizarem paralelamente e até em função das determinações do Mercado, essas instâncias têm a vantagem de constituir uma manifestação viva do desejo visceral de ser e de se afirmar enquanto marca diferenciada num mundo que funciona no princípio da uniformização e categorização das populações, artificialmente sintetizadas e congeladas nas premissas estatísticas e projeções de necessidades e hábitos de consumo. A identidade étnico-cultural (que pode incluir elementos nacionais, lingüísticos e/ou religiosos), em especial, se revelou um poderoso catalisador ideológico, capaz de secretar complexos mecanismos de estruturação da vida social sob todas as suas formas. Funcionando, notadamente, como molde (parcial ou predominante) dos quadros simbólicos que estabelecem os critérios de reconhecimento e as regras de conduta dentro do próprio grupo e nas relações com o resto da sociedade. O desejo de diferenciação das comunidades humanas é, com certeza, inerente a seus próprios processos de auto-organização e de afirmação enquanto entidades coesas e coerentes. Assim, ao se estruturarem em torno de seus sistemas comuns de classificação e de representação do real, através de seus respectivos sistemas de comunicação e suas instâncias de enunciação de sua identidade coletiva, os grupos sociais visam a instituição e a perpetuação de uma marca distinta capaz de consolidar seus interesses materiais, ideológicos e afetivos. Portanto, no afã de assegurar a sua continuidade e se impor enquanto diferença diante outras formas sociais, a comunidade cultural é obrigada a definir seu projeto existencial e delimitar seus campos e níveis de operacionalidade; notadamente através de seus sistemas de comunicação tanto internos como externos. Inversamente, os marcos identitários da comunidade contêm naturalmente em si um conteúdo reflexivo e uma dimensão comunicativa que determinam seu posicionamento político e social no quadro geral da sociedade. Todavia, essa multiplicidade dos quadros identitários (ou pluri-pertencimento) que, com certeza, é uma preciosa fonte de riqueza simbólica, pode também ser (e muitas vezes é) portadora de conflitos latentes ou manifestos e incompatibilidades potenciais ou expressas em termos de lealdade e de reconhecimento, tanto ao nível abstrato dos valores culturais e civilizacionais como no plano organizacional concreto de atitudes e comportamentos sociais e políticos.
Rita Segato, em “Antropologia e Direitos Humanos: alteridade e ética no movimento de expansão dos direitos universais”, nos aponta uma saída:
Somos plenamente humanos porque a mesma cultura que nos implanta os chips de valores morais e as práticas semi-automáticas a nos habilitar como membros de uma comunidade moral e "naturais" de uma sociedade juridicamente constituída, também nos equipa com as ferramentas que permitem detectar refletidamente esses mesmos chips e desativá-los. A isso alude o antropólogo Clifford Geertz quando, relançando conceitos já trabalhados por lingüistas desde o século XIX, afirma contarmos como humanos, ou seja, como seres de cultura, com padrões para o comportamento e padrões de comportamento (patterns for e patterns of behavior) e recorda a importante diferença entre ambos: os primeiros nos fazem agir, impulsionam a conduta, inoculados pelo processo de socialização que instaura nossa humanidade e nos possibilita a vida em comum; os últimos são esses mesmos padrões quando já identificados após um processo de análise cultural e de auto-análise. Os padrões para o comportamento automatizam a conduta; os padrões de comportamento são nossas apostas intelectivas a respeito dos moldes que nos fazem agir, já em sua versão reflexiva, como produto da tentativa de autoconhecimento por parte de uma sociedade ou de um indivíduo (Geertz 1973). É neste segundo nível, devo acrescentar, que nos fazemos seres históricos, que exercemos algum grau de liberdade e autonomia e, portanto, damos plenitude humana à nossa existência, seja qual for a sociedade em que vivamos.
Reside, então, no trabalho reflexivo de identificação dos padrões de comportamento, a possibilidade da ética como impulso em direção a um mundo regido por outras normas, e do redirecionamento da vida — bem como de nossa própria historicidade — no sentido do trabalho constante de transformação do que não consideramos aceitável. Somos plenamente humanos não por sermos membros natos e cômodos de nossas respectivas comunidades morais e sociedades jurídicas, mas por estarmos na história, ou seja, por não respondermos a uma programação, da moral ou da lei, que nos determine de forma inapelável.
Neste ponto, julgo oportuno introduzir a idéia de que a expansão histórica dos direitos depende desse terceiro fator sem conteúdos enumeráveis ou normas positivas. A ética, definida nesse contexto, resulta da aspiração ou do desejo de mais bem, de melhor vida, de maior verdade, e se encontra, portanto, em constante movimento: se a moral e a lei são substantivas, a ética é pulsional, um impulso vital; se a moral e a lei são estáveis, a ética é inquieta.
Isto torna possível que, dentro de uma mesma comunidade moral — a comunidade de cultura estudada pelos antropólogos — possa existir mais de uma sensibilidade com relação à ética que poderíamos, de forma grosseira, enquadrar em duas posições: a ética dos conformistas e a dos desconformes; a dos satisfeitos e a dos insatisfeitos; a dos que têm disponibilidade quanto à diferença, ao novo e ao outro e a dos que não a têm; a dos sensíveis às margens (o que se encontra do outro lado das muralhas de contenção da "normalidade" moral do grupo) e às vítimas e a dos não sensíveis a elas. Parece-me — e é precisamente a isso que desejo chegar — ser este motor ético o impulso por trás do desdobramento expansivo dos direitos humanos, da abertura das comunidades morais e do processo constante e histórico de despositivação da lei — e, portanto, o motivo que permite explicá-los.
É interessante ler também: “As Estruturas Antropológicas do Cyberespaço”, de André Lemos.






































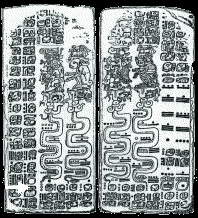
















Nenhum comentário:
Postar um comentário