Içá-Mirim virou francês
A viagem de um índio guarani chamado Essomericq à França, onde teria permanecido e constituído família, consta como episódio da viagem de um navio francês, de nome Éspoir, que fora equipado no porto de Honfleur, Normandia, de onde partiu em junho de 1503, para seguir rumo às Índias Orientais, rota que percorreu apenas parcialmente, havendo chegado ao que teria sido a ilha de São Francisco do Sul, hoje litoral do estado de Santa Catarina no Brasil. O escrito leva originariamente o nome de Declaração de Viagem do Capitão de Gonneville, feita perante o Almirante da Normandia, em 1505, haveria chegado primeiramente a público em forma adulterada acompanhando um memorial de 1663 apresentado ao Papa Alexandre VII, - com vistas a obter vantagens, - pelo Cônego Jean Paulmier de Gonneville, descendente do Navegador e do cacique Arosca, através de Essomericq. O documento na sua forma autêntica foi reencontrado por Paul Lacroix, em 1847, na Biblioteca do Arsenal, em Paris, havendo sido publicado por M. d’Avezac, em 1869 como Relação autêntica da Declaração de viagem às novas terras das Índias, de 1505. Tratava-se efetivamente de uma cópia autenticada, do século 17.
O jornal “A Tribuna do Norte” comentou no ano 2000 esse tema: “Na mão inversa da colonização, o Velho Mundo teve a oportunidade de receber e admirar alguns exemplares daquele exótico povo das terras de além-mar. A expedição de Cabral não levou nenhum nativo brasileiro para Portugal, mas muitos outros navegadores trataram de carregar índios para seus países. Um caso especial foi o do jovem Essomericq, que viajou para a França, em 1504, com o consentimento do pai, o cacique Arosca. Os termos impostos pelo líder indígena ao capitão francês Binot Paulmier de Gonneville — que Essomericq aprendesse a fabricar canhões e voltasse depois de 20 luas — não foram cumpridos. O jovem brasileiro acabou se casando com uma filha de Gonneville, com quem teve herdeiros. Arosca e seus sonhos de autonomia bélica ficaram a ver navios. Durante a viagem, morreu o acompanhante de Essomericq, o índio Namoa, vítima de escorbuto, que matou também três tripulantes do navio. Essomericq sobreviveu à grave enfermidade de-pois de ser batizado a bordo. Pouco tempo depois tornou-se freqüente a ida de indígenas para a França, a maior parte destinada à exibição pública, como num museu vivo. Mas nada se comparou à famosa festa brasileira oferecida em 1550 ao rei da França, Henrique II, em Rouen. Às margens do Rio Sena, 300 pessoas, entre elas cerca de 50 índios, fizeram um show histórico. Enquanto os nativos representavam a si próprios, os demais ajudavam a compor as cenas. No gran finale, simulavam um combate cruento entre tabajaras e tupinambás. A lista de convidados ilustres incluía a rainha da Escócia, Mary Stuart, e os embaixadores de Portugal, Espanha, Inglaterra e Veneza, além de arcebispos. Apertados em seus veludos e brocados, nobres e autoridades eclesiásticas aplaudiram com entusiasmo o espetáculo daquela gente nua. Très éxotique.”
A respeito desses índios brasileiros que serviram como atores de circo para a diversão das cortes européias, conta Mônica Cristina Corrêa: “Alguns desses índios do Brasil jamais regressaram à sua terra. Eles ficaram vivendo na França e se diz que Montaigne os entrevistou. Inspirado por seus testemunhos, o escritor bordelês escreveu «Os canibais», ensaio onde ele afirma que não devemos chamar bárbaros o que para nós é estranho. Sem o saber, Montaigne fundou o mito do Bom Selvagem, aprofundado sob a escrita de Jean-Jacques Rousseau no século XVIII.”
Uma escola de samba catarinense utilizou em 2007 o tema descrito no livro da professora Leyla Perrone Moisés, Vinte Luas - Viagem de Paulmier de Gonneville ao Brasil, 1503-1505 (Companhia das Letras, São Paulo, 1992), para homenagear o índio que foi à França com aquele que seria seu nome guarani: Içá-Mirim (que os franceses grafaram Essomericq). O mesmo livro, entretanto, teria merecido uma polêmica na França por parte de Jacques Lévêque de Pontharouart que em um artigo, “Paulmier de Gonneville. Son voyage imaginaire” contestou a veracidade dessa viagem bem como sua relação (relatório) datada de 1505. Sua tese se funda de um lado sobre o fato de que não existe nenhuma peça no dossiê anterior a 1659 e, de outro, sobre uma série de anacronismos na versão mais completa da relação de Gonneville depois de seu suposto naufrágio no largo de Jersey, consecutivo a um ataque de piratas. “Essa declaração que se considera ter sido feita diante do Almirantado de Rouen não respeitaria os usos da época, nem quanto à forma, nem quanto ao vocabulário; ela não teria o caráter obrigatório que sugerem seus termos, obedecendo a uma regra que lhe seria de fato muito posterior; enfim, ela seria apresentada diante de uma instância ainda incompetente, senão inexistente. Daí a idéia que se trataria de algo forjado de todas as peças em 1659, por aquele que juntou esse texto a um espesso dossiê pleiteando uma campanha de evangelização das Terras Austrais, o abade Paulmier de Courtonne, capelão de Lisieux - projeto que ele estava aliás destinado a dirigir, ainda mais se proclamando descendente de um filho de cacique local, Essomericq.” Ora, fossem essas ou não as pretensões do dito abade, não seria demeritório proclamar uma origem mestiça na Europa daquela época? Polêmica à parte, ficção ou não, conhecendo-se o teor da narrativa não há nada que desmereça a relevância da existência desse texto como uma espécie de “mito fundador” das relações entre a França e o Brasil:
Dizem também que, durante sua permanência na dita terra, conversavam cordialmente com as gentes dali, depois que elas foram cativadas pelos cristãos por meio das festas e pequenos presentes que estes lhes faziam; sendo os tais Índios gente simples, que não pediam mais do que levar uma vida alegre sem grande trabalho; vivendo da caça e da pesca, e do que a terra lhes dá de per si, e de alguns legumes e raízes que plantam; indo meio nus, os jovens e a maioria dos homens usando mantos, ora de fibras trançadas, ora de couro, ora de plumas, como aqueles que usam em seus países os egípcios e os boêmios, exceto que são mais curtos, com uma espécie de avental amarrado sobre as ancas, indo até os joelhos, nos homens, e nas mulheres até o meio das pernas; pois homens e mulheres se vestem da mesma maneira, exceto que a vestimenta da mulher é mais longa. E usam as fêmeas colares e pulseiras de osso e de conchas; não o homem, que usa, em vez disso, arco e flecha tendo por virotão um osso devidamente acerado, e um chuço de madeira muito duro, queimado e afiado no alto; o que constitui toda a sua armadura. E vão as mulheres e as meninas com a cabeça descoberta, tendo os cabelos gentilmente trançados com cordéis de ervas tingidas de cores vivas e brilhantes. Quanto aos homens, usam longos cabelos soltos, com um círculo de plumas altas, de cores vivas e bem dispostas. Dizem ainda terem entrado no dito país, aí avançando por dois dias, e ao longo da costa mais tempo, tanto à direita como à esquerda; e terem notado que o país é fértil, provido de muitos animais, pássaros, peixes, árvores, e outras coisas singulares desconhecidas na Cristandade, cujas formas o falecido senhor Nicole Le Febvre de Honfleur, que fazia a viagem como voluntário, curioso e personagem de saber, tinha retratado; o que se perdeu com os diários de bordo por ocasião da piratagem do navio; perda em razão da qual muitas coisas e boas observações são aqui omitidas.
Também dizem que o dito país é medianamente povoado. E as habitações dos índios formam aldeias de trinta, quarenta, cinquenta ou oitenta cabanas, feitas à maneira de galpões com estacas unidas umas às outras, ligadas por ervas e folhas, com as quais os ditos habitantes são igualmente cobertos; e têm por chaminé um buraco, para fazer sair a fumaça. As portas são bastões corretamente ligados; e eles as fecham com chaves de madeira, quase como as que se usam, nos campos da Normandia, nos estábulos. E seus leitos são esteiras macias cheias de folhas ou penas, suas cobertas são esteiras, peles de animais ou plumagens; e seus utensílios domésticos são de madeira, mesmo as panelas, mas estas são revestidas de uma espécie de argila da espessura de um dedo, o que impede que o fogo as queime.
Também dizem ter notado que o dito pais está dividido em cantões, cada um com seu Rei; e embora os ditos Reis não sejam mais bem alojados e vestidos do que os outros, são muito reverenciados por seus súditos; e nenhum é tão atrevido que ouse desobedecer-lhes, já que eles têm poder de vida e de morte sobre seus vassalos. Disso alguns do navio viram um exemplo digno de memória, a saber, o de um rapaz de dezoito a vinte anos que, num momento de exaltação, deu uma bofetada em sua mãe; tendo isso chegado ao conhecimento do chefe, embora a mãe não se tenha queixado, este mandou buscar o rapaz e ordenou que o jogassem no rio, com uma pedra no pescoço, depois de chamar, por aviso público, os jovens da aldeia e das aldeias vizinhas; e ninguém conseguiu obter remissão, nem mesmo a mãe que, de joelhos, veio implorar perdão para seu filho. O dito Rei era aquele em cuja terra permaneceu o navio; seu nome era Arosca. Seu país tinha a extensão de um dia, e era povoado de cerca de uma dúzia de aldeias, cada uma das quais tinha seu capitão particular, e todos obedeciam ao dito Arosca.
O dito Arosca tinha, ao que parece, uns sessenta anos, e era viúvo; tinha seis filhos machos de trinta até quinze anos; e vinham, ele e os filhos, frequentemente ao navio. Homem de postura grave, estatura média, gordinho, de olhar bondoso; em paz com os Reis vizinhos, mas ele e estes guerreavam com outros povos das terras interiores: contra os quais investiu duas vezes, durante a estada do navio, levando de quinhentos a seiscentos homens cada vez. E da última vez, seu retorno foi motivo de grande alegria para todo o seu povo, porque ele tinha alcançado grande vitória; suas ditas guerras não eram mais do que excursões de poucos dias contra o inimigo. E ele bem que gostaria que alguns do navio o acompanhassem com suas armas de fogo e artilharia, para atemorizar e desbaratar seus ditos inimigos; mas disso a gente se escusou. Também dizem que não notaram nenhum sinal particular que distinguisse o dito Rei dos outros Reis do dito país, dos quais cinco vieram ver o navio, afora que os ditos Reis usam na cabeça plumagens de uma única cor; e seus vassalos, pelo menos os principais, usam em seus círculos de penas algumas da cor de seu chefe, que era o verde na do dito Arosca, seu hospedeiro.
Também dizem que se os cristãos fossem anjos descidos do céu não seriam mais estimados por esses pobres índios, que estavam todos assombrados com a grandeza do navio, com a artilharia, os espelhos e outras coisas que eles aí viam, e sobretudo com o fato de que, por um recado escrito que se enviasse de bordo aos tripulantes que estavam nas aldeias, se lhes fizesse saber o que se queria; eles não conseguiam explicar como o papel podia falar. Também por isso os cristãos eram por eles temidos, e pelo amor de algumas pequenas liberalidades que lhes faziam, pentes, facas, machados, espelhos, miçangas e outras bugigangas, tão amadas que por elas se deixariam esquartejar, e lhes traziam abundância de carne e peixes, frutas e víveres, e tudo o que eles viam ser agradável aos cristãos, como peles, plumagens e raízes para tingir; em troca do que lhes eram dadas quinquilharias e outras coisas de baixo preço: de modo que reuniu-se cerca de cem quintais das ditas mercadorias, que na França teriam alcançado bom preço.
Dizem também que, desejando deixar, no dito país, marcas de que ali haviam chegado cristãos, foi feita uma grande cruz de madeira, alta de trinta e cinco pés ou mais, bem pintada; a qual foi plantada num outeiro com vista para o mar, em bela e devota cerimônia, tambor e trombeta soando, em dia bem escolhido, a saber, o dia de Páscoa de mil quinhentos e quatro. E foi a dita cruz carregada pelo Capitão e pelos principais do navio, todos descalços; e ajudavam-nos o dito chefe Arosca e seus filhos e outros índios notáveis, que para tanto foram convidados de honra; e eles se mostravam alegres. Seguia a tripulação armada, cantando a ladaínha, e um grande povo de índios de todas as idades, aos quais há muito fazíamos festa, quietos e muito atentos ao mistério. Plantada a dita cruz, foram dados vários tiros de escopeta e artilharia, e oferecidos festim e presentes honestos ao dito chefe Arosca e principais índios; e quanto à populaça, não houve ninguém a quem não se fizesse algum dom de bugigangas baratas, mas por eles prezadas, tudo para que o fato lhes ficasse na memória; dando-lhes a entender, por sinais e de outras formas, o melhor possível, que eles deviam conservar e honrar a dita cruz. (...)
Dizem ainda que estando finalmente o navio limado, calafetado e abastecido o melhor possível para a volta, foi decidido que se partisse para a França. E porque é costume daqueles que chegam às novas terras das Índias levarem delas à Cristandade alguns índios, tanto se fez, com tal gentileza, que o dito chefe Arosca consentiu que um de seus filhos jovens, o qual se dava bem com os do navio, viesse à Cristandade, já que se prometia ao pai e ao filho trazê-la de volta dentro de vinte luas ao mais tardar; pois assim eles contavam os meses. E o que lhes dava mais vontade: faziam-no crer que, àqueles que viessem do lado de cá, ensinariam a artilharia; o que eles desejavam intensamente, para poderem dominar seus inimigos: como também a fazer espelhos, facas, machados e tudo o que viam e admiravam dos cristãos; o que era prometer-lhes tanto como prometer a um cristão ouro, prata e pedrarias, ou ensinar-lhe a pedra filosofal.
Tendo acreditado firmemente nessas coisas, o dito Arosca estava contente de que levassem seu filho, que se chamava Essomericq; e deu-lhe por companhia um índio de trinta e cinco ou quarenta anos, chamado Namoa. E vieram, ele e seu povo, em escolta até o navio; fornecendo-lhes muitos víveres, numerosas e belas plumagens e outras raridades, como presentes que eles enviavam ao Rei nosso Senhor. E o dito chefe Arosca e os seus esperaram a partida do navio, fazendo o Capitão jurar que voltaria dali a vinte luas; e na hora da partida o povo todo soltou um grande grito, e davam a entender que conservariam bem a cruz; fazendo o sinal dela com dois dedos cruzados.
Dizem também que assim partiram das ditas Índias Meridionais, no dia três de julho de mil quinhentos e quatro, e desde então não viram terra até o dia seguinte ao de São Dinis [10 de novembro], tendo corrido diversas fortunas e tendo sido atormentados por febre maligna, que atacou vários do navio e matou quatro, a saber: Jean Bicherel de Pont-l’Evêque, cirurgião do navio; Jean Renoult, soldado de Honfleur; Stenoz Vennier, de Gonneville-sur-Honfleur, valete do Capitão; e o índio Namoa. E foi posto em dúvida se devíamos batizá-lo, para evitar a perdição de sua alma; mas o dito senhor Nicole dizia que seria profanar o batismo em vão, já que o dito Namoa não conhecia a crença de nossa Santa Madre Igreja, como devem saber os que recebem o batismo tendo a idade da razão; e acreditamos no senhor Nicole, como sendo o mais sábio do navio. Entretanto, depois ele teve escrúpulos; de modo que, estando doente por sua vez o jovem índio Essomericq, e em perigo, foi, a seu conselho, batizado; e administrou-lhe o sacramento o dito senhor Nicole, e foram padrinhos o dito de Gonneville, Capitão, e Antoine Thiéry; e, no lugar da madrinha, tomou-se Andrieu de la Mare como terceiro padrinho; e recebeu o nome de Binot, que era o nome de batismo do Capitão: foi no dia quatorze de setembro que isto se fez. E parece que o dito batismo serviu de remédio à alma e ao corpo, porque depois dele o índio melhorou, sarou, e está agora em França. Dizem que as ditas doenças provinham de estarem gastas e fedorentas as águas do navio, e também do ar marítimo, como puderam verificar, já que o ar da terra e carnes e águas frescas curaram todos os doentes. Razão pela qual, cientes da causa de seu mal, todos desejavam terra.
Confira o texto completo pela Universidade Federal de Santa Catarina clicando aqui.






































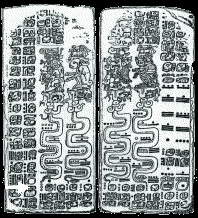
















Nenhum comentário:
Postar um comentário