"O índio que levamos dentro de nós"
 "Transcorreram já três anos desde que Juan, nosso primeiro paciente araucano, deixou Buenos Aires e regressou ao Neuquén. Seu 'quadro psiquiátrico' havia sido caracterizado com a etiqueta de 'neurose fóbica grave'.
"Transcorreram já três anos desde que Juan, nosso primeiro paciente araucano, deixou Buenos Aires e regressou ao Neuquén. Seu 'quadro psiquiátrico' havia sido caracterizado com a etiqueta de 'neurose fóbica grave'.Talvez pelo fato de que as culturas mais sábias requerem terapias mais sábias, Juan perambulou de profissional em profissional sem obter nenhuma melhoria. O conheci quando por sua própria decisão tinha optado por confinar-se aos limites de sua própria cama, pois este era para ele o único lugar do planeta onde não sentia medo.
Vivia ele no mesmo vilarejo no qual poucos meses atrás eu tinha decidido montar meu primeiro consultório etnopsiquiátrico. Seu tratamento durou seis meses. Dois meses depois da alta, Juan tomava a decisão de voltar a sua terra natal. Minha vida como profissional ficou dividida em duas etapas: antes e depois de Juan. Socorrê-lo em seu sofrimento me obrigou a reformular muitos conceitos sobre a ação psicoterapêutica, modificar enquadramentos e objetivos.
Em um serviço psiquiátrico haviam escrito ao princípio de sua história clínica uma nota insólita: “Paciente com falta de motivação para a cura” . Por esse motivo o deram de alta. Para a etnopsiquiatria, um paciente que não se cura implica que o terapeuta não soube aceder a uma interculturalidade fundante que permita a comunicação plena que faça possível a cura.
O tratamento de Juan demonstrou que padecia de algo mais que uma neurose fóbica. E a esse algo mais, a psiquiatria oficial - que segue pensando-se a si mesma como uma disciplina que tem muito que ensinar e pouco que aprender - não podia diagnosticá-lo.
Mais além dos intentos de tornar a Juan um fármaco-dependente, um mero número de história clínica elaborada em base a um frio interrogatório policial, ou de convertido em uma etiqueta psicodiagnóstica que todos traduziam como doença incurável, ninguém pensou que em Juan pudesse estar atuando a culpa inconsciente por haver abandonado, e portanto traído, um esquema de pensamento e uma forma de vida ancestral e sábia.
Agora Juan vive em uma paragem solitária. Suas tarefas são muitas e não existem sofisticações técnicas que o ajudem. Sua esposa aprendeu a arte de tecer no telar, viajou até uma velha índia que vive a muitos quilômetros de sua casa e ela a ensinou. A seu redor começou a produzir verdadeiras obras de arte, que, como todos os povoadores da zona, vende ao governo por uns poucos tostões.
A casa é pequena, e Juan não nos escreveu muito acerca dela. Penso que, contudo, deve ser uma boa morada, porque do contrário Juan lhe teria dedicado alguma frase irônica.
Antes de Juan, os ensinamentos dessa antropologia à norteamericana que nada me tinha dito sobre minha própria miséria simbólica. Depois de Juan, algo muito diferente a descrever a vida: aprender a vivê-la. Porque na reinstalação que empreendi em Neuquén se joga uma alquimia impossível para o ocidental: a de transformar-se de robô urbano em alguém que, ainda que com as limitações econômicas que determina o poder político ao índio de nossa terra, passa a procurar-se a ampliação de uma consciência mística inédita para a maioria de nós. E por ela, a partir de um silêncio pleno de sentidos, se busca e se encontra um eixo ou centro capaz de articular desde a identidade até o gozo, um centro que supere, como disse Kusch, o “desgarramento da queda”. .
Ao decidir sua volta ao Neuquén, Juan faz algo mais que retornar às fontes ou “regredir” (dito no pior estilo psicoanalítico): estabelece também um novo domicílio existencial capaz de outorgar coerência ou transfundo ecológico a sua nova disposição psíquica, e de brindar em um contexto grupal comunitário, diremos melhor - os elementos gestuais, rituais, calendários, nos quais descansar a vida e arrojá-la desde o elemento local a todo o universal. Juan funda assim sua particular e exclusiva geografia emocional, aquela que se dá apenas quando o arquétipo é ativado na consciência.
O arquétipo reprimido do Ocidente
Rodolfo Kusch compara em um diagrama os princípios básicos do pensamento ocidental e do indígena. Parte do evidente quadro de solidão do homem ocidental, que impregna a vida afetiva de um certo pessimismo rancoroso. A este lhe contrapõe o conceito andino de “comunidade”: o indígena cultiva a comum unidade. Seu suporte afetivo não repousa totalmente em um outro particular, mas sim em um cosmos cotidiano.
O ocidental vive em “sociedade”, não
A formação escolar do ocidental, baseada exclusivamente no inculcamento do princípio de causalidade, é por si mesma um reforço da solidão. A ciência pode oferecer conforto, mas dificilmente poderá promover um pensamento que se anime a conectar-se mais com o afetivo que com o racional. Isto seria propor uma interioridade poética que tenha o poder de mitologizar o cosmos, diminuindo assim o sentimento de solidão.
O índio se move numa irracionalidade consciente, onde prevalece a intuição (essa sabedoria que não necessita pré-elaborar-se). Esta não se propõe a experimentar o fato, e sim contemplar-se nele. A irracionalidade do índio não deixa de viver-se inteligentemente desde um domicílio existencial no qual sempre se renova a surpresa de coabitar com o absoluto.
Irracionalidade, comunidade e domicílio são apenas três aspectos do arquétipo do americano interior. Arquétipo entendido como a forma suprema da qual, por variação, derivam infinidades de formas distintas entre si, mas todas elas com determinadas características comuns que lhes confere o arquétipo. O arquétipo é perene e, cada vez que acontece, sucede irrepetivelmente. Deve ser lembrado continuamente. O modo com o qual isto se realiza se chama “rito”.
O arquétipo conformado pela seqüência irracionalidade-comunidade-domicílio tende a ser reprimido nas sociedades urbanas do Ocidente. Estes componentes se ativam em base a uma interioridade energética poético-mágica. Disto se deduz que, no Ocidente, o tipo de ensinamento impartido reprime o afeto das relações comunitárias, com o qual se agudizam os quadros de solidão individual.
O medo do homem ocidental para com a magia o empobrece simbolicamente, ou acultura, tornando-se a vida um simples passar, sem emoções nem comoções. Ao carecer de comunicação com o arquétipo, os poucos pseudo-ritos que o Ocidente ainda cultiva se esvaziam de conteúdo: já não se canta a Deus, apenas os “ovnis” de vez em quando nos ajudam a suprir essa grande nostalgia que a humanidade sente por uma remota época na qual o diálogo com os anjos era algo corrente e ao mesmo tempo comovedor. Muito longe ficaram as danças comunitárias, a oração fervorosa que modifica o ritmo respiratório até transformar o corpo em uma usina de emoções inenarráveis. Nosso corpo já não vibra com ritmos rituais, não há uma gozosa percepção do sagrado. Alguns praticam expressão corporal, mas estas práticas se realizam no desconhecimento absoluto de que o corpo é uma lembrança, uma cópia do princípio metafísico de Deus. Substituímos à comunidade com o conceito de grupo, relativizamos todo nosso ser ao ser do grupo; não existe um “mais além do grupo”. O grupo é um universo limitado que se fecha sobre si mesmo; na maioria das vezes, não dá permissão a seus integrantes para realizarem uma exploração individual da natureza e do espírito. Para tudo existe uma técnica, que é mais científica e mecânica que espontânea e sentida.
O indígena não sofre de psicose: quase todos os estudos científicos atuais sobre o tema demonstram com clareza que a esquizofrenia é também um invento de nossa cultura. O indígena é o suficientemente sábio como para deixar que o arquétipo, em vez de alimentar os conflitos individuais reprimidos, seja liberado e se recrie jogando a postular um cosmos, um afora que se irá construindo pouco a pouco, como calco de uma interioridade cada vez mais desanuviada. Se trata de uma projeção onde o de afora é semelhante a mim mesmo.
O indígena, ao realizar o rito, expressa: “O cosmos é agora como eu. Portanto, não oferece perigos nem exige trabalhos de reparação. Agora, pode todo meu ser estar. Se o calco foi organizado, se a fratura não foi fechada, agora, por ser o de afora previsível - pois é igual a mim - , posso habitar em todo meu corpo, nos olhos, ou nos espíritos ou no céu e suas estrelas. Estou em todos os objetos e todos os objetos sou eu. Minha psique será de agora em diante uma analogia do cosmos”.
Do arquétipo à psicoterapia
O objetivo do trabalho terapêutico deve ser tornar consciente o arquétipo que contém a magia e a poesia revitalizante e ressignificadora. Neste conceito baseio minha ação como etnopsiquiatra. Para alcançar isto me apóio nos seguintes pontos:
1. Sonhos, reformulados de acordo com a história e cultura do paciente que permitam a suficiente mobilização como para que opere mudanças no exterior ao mesmo tempo que aumenta a harmonia interna.
2. Incremento da capacidade criadora: jogos, expressões plásticas e todas aquelas atividades que de algum modo acompanhem, gratifiquem e enriqueçam o relato.
3. Técnicas rito-corporais. Emprego do gesto e da música para vivenciar o que se expressa.
4. Construção do mito próprio, que contém sempre uma analogia temática com os conflitos inconscientes, permitindo conhecê-los e superá-los. Jogar com personagens, espaços, circunstâncias fantásticas, de modo livre, até compor a própria saga heróica individual, que dê conta do universo trágico reprimido.
Nesta dupla empresa de aprender do mito e de recriá-lo baseei meu acercamento terapêutìco a pacientes portadores de culturas diferentes da nossa, começando assim a aceitar o desafio de brindar esta proposta ao homem ocidental. .
Devemos integrar o arquétipo a nossa vida consciente. Para isso é necessária uma participação física direta. Devemos reeditá-lo integralmente, em seus movimentos (bailes, máscaras, gestos, etc.) e sons. Devemos tornarmos o arquétipo, para começar a ser".
Fonte: TRANSDISCIPLINARIA. O presente artigo foi publicado originalmente na revista argentina "Uno Mismo" com o título "Indio que te llevamos adentro". O Autor, Claudio Antonio Páleka, é antropólogo especializado em etnopsiquiatria. Trabalhos seus sobre etnohistória obtiveram prêmios do Ministério de Cultura e Educação argentino e de The Rolex Awards (Suíça, 1978). Realizou viagens à Índia, Indonésia e Tailândia para pesquisar a relação entre as instituições totais de talhe religioso e as crenças e práticas sobre saúde mental. Foi membro fundador e presidente da Associação Argentina de Etnopsiquiatria, e coordenou práticas de antropologia vivencial para antropólogos, psicólogos e outros cientistas sociais. Atualmente Monsenhor Claudio Antonio Páleka é o representante para América Latina da Igreja Católica Apostólica Mariavita. Tradução em copyleft pelo autor deste blog. Conheçam também o site argentino Folklore y Tradiciones.






































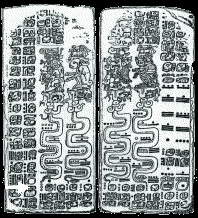
















Nenhum comentário:
Postar um comentário